Projeto Anglo-americanismo: intelectuais, narrativas e apropriações na EPT brasileira
Última modificação: Quarta-feira, 23 de novembro de 2022
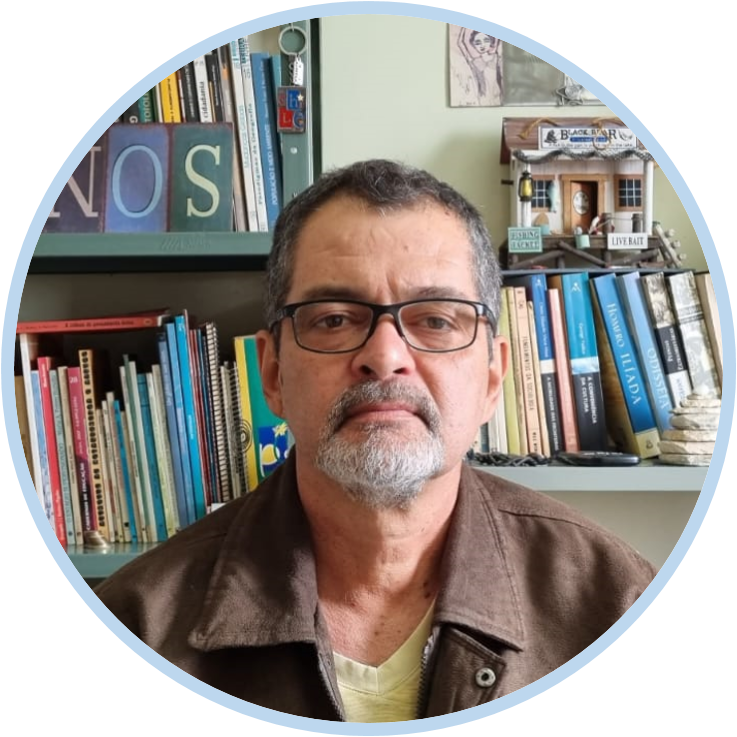
Coordenador
Prof. Dr. José Geraldo Pedrosa
Visão geral
O Projeto Anglo-americanismo tem foco na história na educação profissional no Brasil, em especial nos processos que decorrem da industrialização da economia brasileira e no protagonismo que passa a ser desempenhado pelo ensino industrial nas décadas intermediárias do século XX.
No sentido aqui adotado as expressões anglo-americanidade e anglo-americanismo são referências à afirmação e expansão dos Estados Unidos da América-EUA como referência civilizatória e suas repercussões no capitalismo globalizado. Essa afirmação dos EUA é um acontecimento inédito e tem desdobramentos múltiplos: na economia, na sociedade, na cultura ou na educação.
A noção de anglo-americanismo, em especial, é referente à circulação ou à difusão de valores, ideias, práticas ou outros componentes da civilização anglo-americana no Brasil. O assunto é objeto de estudo de autores brasileiros, tanto clássicos quanto contemporâneos. Entre os clássicos um representante é Sérgio Buarque de Hollanda, que, em 1941 publicou “Cobra de Vidro”, livro que contém um artigo jornalístico intitulado “Considerações sobre o Americanismo”. Entre os contemporâneos um autor importante é Roberto da Matta que publicou, no livro “Carnavais, malandros e heróis”, um ensaio intitulado “Você sabe com quem está falando?”. Nesse ensaio da Matta faz comparações culturais entre EUA e Brasil. Entre os autores brasileiros contemporâneos que têm se dedicado ao estudo dessa americanização do Brasil está também Warde, que já publicou vários artigos sendo um deles “Americanismo e educação: um ensaio no espelho”. Nesse artigo Warde demonstra como, ao longo do século XX, os EUA figuram no imaginário das elites brasileiras como a terra prometida ou como referência bem sucedida. Oliveira publicou o livro “Os americanos: representações da identidade nacional no Brasil e nos EUA”. Tota publicou o livro “Os americanos” e Mignot e Gondra (2007) organizaram uma coletânea com textos de diversos autores no livro “Viagens pedagógicas”.
O italiano Antonio Gramsci (2001) interpretou a anglo-americanidade como uma renovação da capacidade reprodutiva do sistema produtor de mercadorias e, nesse sentido, é inseparável do fordismo. O fordismo visto por Gramsci é mais que um modus operandi da fábrica, é um modus vivendi, a plena integração entre homem e máquina. Para ele, o industrialismo é europeu, mas em território americano se associa à massificação do consumo e isso tem consequências: a sociedade torna-se uma imensa engrenagem de produção e de consumo visando ao lucro. É nesse sentido que o homem se integra à máquina: ambos são peças de uma força produtiva na qual homens e máquinas formam um todo orgânico. O fordismo não é somente um modus operandi da produção ou circunscrito ao chão das fábricas. É um estilo de vida, uma expressão da modernidade apropriada pelo capital. É um fenômeno que requer mudanças profundas em relação à cultura europeia e isso demarca a diferença entre modernidade e americanidade.
No Brasil, segundo Warde, aos poucos, os Estados Unidos passaram a figurar no imaginário das elites como a terra prometida, isenta das mazelas da Europa envelhecida e cheia de conflitos. No Brasil, a presença anglo-americana na política e na educação vem desde o final do século XIX e intensifica-se ao logo de todo o século XX com base em movimentos simultaneamente centrípetos e centrífugos.
Entre os primeiros brasileiros a buscarem inspiração na anglo-americanidade, ainda no século XIX, estão Rui Barbosa, Maria Guilhermina Loureiro e Antônio Augusto de Oliveira. Barbosa foi em busca de modelo para a Constituição republicana de 1889 e Loureiro e Oliveira foram em busca de modelos pedagógicos. Na primeira metade do século XX entre os viajantes mais ilustres estavam Anísio Teixeira, Monteiro Lobato, Lourenço Filho, Roberto Simonsen, Américo Giannetti e Viana Moog. Teixeira foi conhecer Dewey e sua filosofia da educação; Lobato foi como adido comercial; Lourenço Filho foi conhecer escolas e a psicologia da educação; Simonsen foi ver de perto a administração científica da produção e do trabalho, ou seja, o taylorismo; Giannetti foi aprender a fabricar alumínio; e Moog foi para fazer pesquisa social stricto sensu. Todos esses autores, na condição de intelectuais mediadores, fizeram circular no Brasil ideias e práticas de origem anglo-americana.
A presença da anglo-americanidade no Brasil por meio do movimento centrífugo ocorre desde o século XIX, mas de modo mais intenso e extenso foi a partir do século XX. Após a guerra civil de 1865, fazendeiros do sul dos EUA migraram para São Paulo e trouxeram dinheiro, cultura e técnicas agrícolas, entre as quais o arado. A cidade de nome Americana, em São Paulo, é expressão da presença de migrantes dos EUA em terras brasileiras. Mas foi nos anos 1930 e 1940, com o rádio, o cinema e, depois, com a televisão, que a indústria cultural anglo-americana espalhou novos padrões de comportamento entre as populações urbanas brasileiras.
Fato é que a partir de meados do século XX, Brasil e EUA intensificam suas relações políticas, econômicas e educacionais por meio de uma série de acordos bilaterais que resultam em circulação dos modelos anglo-americanos no Brasil. Essa aproximação aconteceu muito nos anos 1940, no contexto da Segunda Guerra e da criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A declaração de apoio do Governo Vargas aos países aliados em 1942, o envio de pracinhas aos campos de batalha na Europa e a cessão do litoral brasileiro para a logística de guerra geraram dívidas e dividendos ao Brasil. Na economia, a industrialização brasileira foi acelerada em decorrência do aumento das exportações e da entrada de capitais, indústrias, técnicas e técnicos de origem anglo-americana. É dessa época a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pelo ciclo siderúrgico; a Fábrica Nacional de Motores (FNM); a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Aços Especiais Itabira (Acesita), na zona metalúrgica de Minas Gerais. É nessa época também que a Coca Cola começou a instalar suas fábricas no Brasil, pelo sistema de franquias.
Marco emblemático da presença da anglo-americanidade na educação brasileira foi o acordo bilateral que resultou na criação da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI). Ensino industrial é essa modalidade de educação profissional que adquire formato de redes nacionais no Brasil em 1942. Uma dessas redes surge voltada para a formação de mão de obra: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Outra rede nasce voltada para a formação de cabeça de obra ou de técnicos para a indústria: as Escolas Técnicas Federais.
Nos anos 1940, a aceleração industrial exigia a formação, em grande escala e com agilidade, de um novo tipo de trabalhador e de consumidor; formação de um novo homem, urbano e apto à administração científica do trabalho e da produção. Foi para atender a essa demanda que o Brasil instituiu as duas referidas redes de ensino industrial para a formação de trabalhadores e de técnicos. A instituição dessas duas redes e a necessidade de formação de trabalhadores em grande escala levaram o Brasil a deparar-se com a demanda de formação de professores para o ensino industrial, ou seja, dos professores de cultura técnica ou dos professores de oficina. Para essa função, além do domínio prático do ofício a ser ensinado – do saber-fazer – era necessário saber ensinar e saber como o outro aprende. Ou seja, eram necessárias a didática e a psicologia do ensino industrial. O problema é que o Brasil não dispunha de professores com esse perfil e era preciso formá-los com agilidade. Mas o Brasil também não dispunha da expertise necessária à formação desses professores. Foi necessário buscar amparo em experiências internacionais e não seria na Europa totalitária que o Brasil se apoiaria. É dos EUA que veio tal aporte. Para isso, a CBAI criou a Biblioteca do Ensino Industrial, com livros de didática e psicologia, entre outros, todos de origem anglo-americana. Além disso, foram realizadas várias viagens para intercâmbio entre professores do Brasil e dos EUA.
No Brasil, a superação do modelo agroexportador por outro modelo que tomou a indústria como carro-chefe da vida econômica e social foi também o resultado de cumulativa afirmação dos chamados industrialistas. Os industrialistas surgiram em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, no final do século XIX e início do século XX, nos ambientes da Escola Politécnica de São Paulo, da Escola de Minas de Ouro Preto (Emop) e da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Gradativamente os industrialistas se tornaram um movimento, passando a mobilizar e a expressar-se nos meios políticos. A hipótese mais geral aqui adotada é que a afirmação do industrialismo e a constituição do novo ensino industrial no Brasil revelam uma presença dos EUA. Nesse período, enquanto a Europa se fechava com o totalitarismo nazifascista, os EUA afirmavam-se como referência de democracia liberal, de economia industrial e de incorporação das massas à produção e ao consumo.
Objetivos
Pesquisar a circulação de ideias de origem anglo-americana na educação profissional, técnica e tecnológica no Brasil.
Especificamente, pretende-se:
- Identificar intelectuais mediadores que realizaram viagens culturais, científicas ou educacionais aos EUA e que tenham produzido mensagens com a finalidade de circular no Brasil ideias e práticas anglo-americanas;
- Examinar diferentes gêneros discursivos (cartas, entrevistas, artigos em jornais, pronunciamentos, relatórios, livros e outros) produzidos com a finalidade de circular no Brasil ideias e práticas anglo-americanas;
- Pesquisar instituições de educação para o trabalho no Brasil, que sejam originárias ou que tenham realizado apropriações pedagógicas nos EUA;
- Examinar práticas escolares implementadas a partir de acordos educacionais envolvendo Brasil e EUA, em especial no âmbito da educação profissional, técnica e tecnológica.
Temas e Objetos de estudo
O campo objetal desse projeto que focaliza a circulação de ideias anglo-americanas na EPT brasileira abrange um amplo leque de possibilidades para pesquisas: legislação, instituições educativas, intelectuais mediadores e gêneros discursivos, formação de professores, práticas escolares, entre outros, no âmbito da educação para o trabalho e que sejam resultantes de contatos culturais com os EUA.
De modo prioritário, o principal foco temporal é nas décadas de 1930 a 1950. Essa delimitação é decorrente dos acontecimentos que envolvem intensificação da presença econômica e cultural dos EUA no Brasil. É nesse período que o Brasil se configura como uma sociedade capitalista, industrial, urbana e de massas.
Esse período de 1930 a 1950 foi denso na história da educação profissional porque foi nele que aconteceram mudanças institucionais significativas e redefinições de seu público, dos critérios de seleção, dos objetivos e dos métodos de ensino: tudo isso com impactos na formação dos professores de cultura técnica. Nesse período entraram em cena o mercado e a indústria e, com isso, a educação profissional, até então praticada em escala artesanal e principalmente em instituições locais e de caráter filantrópico e religioso, passou a ser constituída e instituída como sistemas nacionais e em ampla escala. De 1942 em diante, com a criação do Senai, do Senac e das escolas técnicas, a educação profissional foi ao nível secundário, seu público passou a ser de jovens e adultos, a psicotécnica tornou-se referência para identificação de aptidões, os objetivos tornaram-se para o mercado, a meta passou a ser formação do trabalhador urbano e a instrução deixou de ser apenas para a moral do trabalho e ganhou o predomínio da técnica. Por ser um período de definição e execução de políticas e programas de larga escala e mobilização de amplos recursos, os anos 1930 a 1950 foram também de intensas disputas em torno de concepções, projetos e práticas. Nesse período de 1930 a 1950 houve movimentações dentro e fora do governo. Movimentações que resultaram em comissões de trabalho, mudanças na legislação educacional, mudanças institucionais e em suas práticas educativas. Nesse processo participaram intelectuais de diferentes origens sociais, campos de interesse, formações e identidades ideológicas. Todo esse repertório de possibilidades é que constitui o campo objetal desse programa de pesquisas.

 Serviço de e-mail
Serviço de e-mail